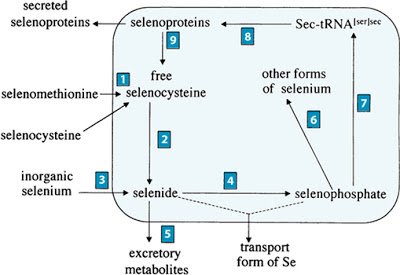Doenças linfoproliferativas
Linfomas
A infiltração da medula óssea é frequente nas doenças linfoproliferativas e detecta-se por várias técnicas, como mielograma ou biópsia óssea, imunofenotipagem e técnicas de biologia molecular. Enquanto o padrão citológico pode ser estudado por mielograma ou biópsia óssea, já o estudo histológico tem de ser feito por biópsia ou aspirado de medula óssea, e o padrão de infiltração apenas pode ser avaliado por estudo de biópsia óssea.
Os padrões de infiltração são 6, e têm valor diagnóstico e prognóstico, sendo designados de:
- padrão intersticial
- padrão nodular
- padrão paratrabecular
- padrão focal disperso ou randonmizado
- padrão intersinusoidal
- padrão difuso
As características de cada padrão são as seguintes:
- Padrão intersticial: padrão no qual células neoplásicas individuais aparecem dispersas entre células hematopoiéticas ou gordas; a arquitectura medular é preservada e a hematopoiese é normal
- Padrão nodular: padrão no qual se apresentam agregados ovais ou redondos de células linfoides, não paratrabeculares, que por vezes formam, ou colonizam, folículos linfóides; por vezes tocam uma trabécula óssea mas não se dispersam ao longo dela
- Padrão paratrabecular: padrão no qual as células neoplásicas se encontram adjacentes às trabéculas ósseas, tanto na forma de uma banda ou como um agregado com uma base larga sobre uma trabécula
- Padrão focal disperso ou randomnizado: padrão no qual focos de células neoplásicas separadas por nódulos hematopoiéticos normais se distribuem de forma irregular
- Padrão intersinusoidal: padrão no qual se observam células neoplásicas entre os sinusóides, seja sózinhas ( raras vezes ) ou em associação com outros padrões de infiltração. A menos que em casos extremos, é um padrão de muito difícil reconhecimento sem o recurso à imunohistoquímica
- Padrão difuso: padrão no qual há uma substituição extensa dos elementos normais da medula óssea, sejam hematopoiéticos sejam as células gordas, de forma a que a arquitectura medular é perturbada significativamente.
Para além destes padrões, observam-se padrões mistos, como o intersticial-nodular, intersticial-intersinusoidal e intersticial-difuso.
A presença de combinações particulares pode dar informações diagnósticas importantes, já que estão fortemente associadas a linfomas particulares, mais comuns em linfomas de células T do que de células B.
Deposição aumentada de reticulina, restringida à área da infiltração, é comum no linfoma. Fibrose por colagéneo é menos comum. A biópsia óssea é um exame mais eficaz do que o mielograma sob o ponto de vista de detecção de infiltrado medular por células de linfoma. Técnicas de imunohistoquímica são úteis no diagnóstico e informação do infiltrado linfocitário, e no estabelecimento da sua extensão. Outras técnicas mais sofisticadas podem dar contributos importantes na demonstração da presença de células neoplásicas e sua infiltração na medula, como sejam a PCR, análise de genética molecular para detectar imunoglobulinas ou cadeias pesadas e rearranjos dos loci receptores das células T. Estas técnicas são complementares e a sua sensibilidade varia consoante o tipo de linfoma.
Discordâncias entre os tipos de linfomas observados na medula óssea e nos gânglios pode variar entre 16% e 40%, sendo esta discordância superior nos linfomas de células B.
A importância clínica de envolvimento medular varia com o tipo de NHL ( linfoma não Hodgkin ). No geral, em linfomas de baixo grau a presença de envolvimento medular não afecta a clínica normal do doente, enquanto que em linfomas de alto grau num local extramedular, a presença de linfoma de alto grau na medula óssea é um sinal de mau prognóstico, frequentemente com envolvimento do sistema nervoso central.
Linfoma de baixo grau na medula óssea acompanhado de linfoma de alto grau extramedular não tem efeito adverso no prognóstico nos riscos de recaída do linfoma.
A infiltração da medula óssea pelo linfoma, pode ser do mesmo tipo histológico ou de outro tipo histológico relativamente ao linfoma encontrado extramedular, mas há que ter em consideração que uma discordância de tipos histológicos de linfomas pode significar a existência de 2 linfomas independentes um do outro.
Padrão de infiltração paratrabecular e padrão de infiltração difusa são, quase sempre, indicativos de neoplasia. Infiltração linfomatosa medular tem de ser distinguida de hiperplasia medular reactiva. Há que ter cautela máxima em diagnosticar linfoma apenas na base da presença medular de pequenos linfócitos.
Nódulos compostos inteiramente de células B são, habitualmente, neoplasias, enquanto que nódulos de populações mistas de células B e T podem ser vistos em situações reactivas ou neoplásicas.
Linfoma folicular
Linfoma folicular é o linfoma de células centrais dos folículos ( centrócitos ou centroblastos ) com um crescimento, pelo menos parcialmente, segundo o padrão folicular. Na medula óssea os folículos são raros. O linfoma folicular é dividido em 4 graus na base da proporção dos centroblastos: grau 1, 2, 3a e 3b. Se áreas difusas são compostas internamente, ou predominantemente, de centroblastos, o doente é olhado como tendo linfoma difuso de células B grandes, qualquer que seja o grau. Linfoma folicular é raro na infância e muito infrequente na adolescência, sendo progressivamente mais frequente à medida que a idade avança, sendo de maior incidência nos brancos e nas mulheres.
Clinicamente, o sinal mais frequente é a linfadenopatia localizada ou generalizada, por vezes com esplenomegalia e/ou hepatomegalia. Derrame pleural ou ascite, com presença de células neoplásicas, podem aparecer com o avançar da doença. Linfoma folicular é geralmente amplamente difundido na altura do diagnóstico ( estadio IV ). O linfoma folicular pode transformar-se em linfoma difuso de grandes células B, em LLA ou em linfoma de Burkitt, sendo estas 2 últimas associadas a mau prognóstico. Mielograma geralmente falha, no diagnóstico de envolvimento medular em linfomas foliculares, devido ao envolvimento focal e à deposição de reticulina aumentada nas áreas infiltradas, pelo que deve ser feito biópsia óssea.
O hemograma é frequentemente normal, mesmo em estadio IV, podendo haver baixa de hemoglobina e plaquetas nos casos de grande infiltração medular. Apenas uma minoria dos doentes apresentam células neoplásicas em circulação, e estas células podem ser mais pequenas que os linfócitos normais com grande relação núcleo/citoplasma, cromatina condensada e clivagem em alguns núcleos. As células podem, no entanto, ser maiores que os linfócitos normais. Citologicamente, pode-se encontrar escasso citoplasma, forma angular, cromatina homogénea mais que em aglomerados, e estreitas clivagens nucleares; as células dos linfomas são mais pleomórficas do que as da LLC. Geralmente, apenas pequenos linfócitos, correspondentes a centrócitos, estão presentes na circulação.
No mielograma observa-se, em mais de 40% dos casos, infiltração da medula, mesmo nos casos em que o sangue periférico continua normal. No entanto, dado que a infiltração medular é frequentemente não contínua, o mielograma pode ser normal mesmo quando há infiltração medular observada na histologia. Quando se observa, no mielograma, haver infiltração medular, as células continuam a ser semelhantes às do sangue periférico, mas frequentemente são de mais difícil reconhecimento.
Na imunofenotipagem, as células do linfoma folicular, mostram forte expressão de SmIg ( IgM com ou sem IgG, IgM sendo negativa ) e são positivas para os marcadores das células B, tais como CD19, CD20, CD22, CD24 e CD79a, frequentemente negativas para CD5 e por vezes positivas para CD38, expressam geralmente CD10, CD79b e o antigéneo detectado por FMC7.
No linfoma folicular, a medula óssea, encontra-se infiltrada em 25-68% dos casos. Esta infiltração medular associa-se a um pior prognóstico. A infiltração é frequentemente focal e raramente intersticial ou difusa, sendo que as infiltrações focais são geralmente paratrabeculares.
Quando a infiltração é acentuada, pode haver coalescência das várias zonas focais, que se juntam, mas a localização paratrabecular mantêm-se. Pior prognóstico associa-se com uma infiltração superior a 10% do espaço intertrabecular, e com 2 padrões de infiltração mais que com um só desses padrões.
O linfócito pequeno clivado ( centrócito ) é o linfócito predominante na medula óssea, nos linfomas foliculares, que são células maiores que os pequenos linfócitos normais, com maior quantidade de citoplasma e um núcleo irregular e, frequentemente, angulado ou alongado, com cromatina menos densa e em aglomerados.
É frequente ver-se pequenos linfócitos reactivos ( predominantemente células T ) nos linfomas foliculares que infiltram a medula óssea.
O padrão difuso é um padrão raro no linfoma folicular. Ocasionalmente, doentes com linfoma folicular apresentam infiltração medular por grandes células B difusas que, embora raro, é importante pois altera o procedimento terapêutico.
Linfoma hepato-esplénico de células T
É um linfoma muito agressivo, que atinge adultos jovens, com sintomas B, hepatoesplenomegalia e citopenia. Linfadenopatia é rara. As células neoplásicas expressam a forma γδ do TCR ( receptor das células T ), que é normalmente expressado numa minoria de linfócitos T periféricos, podendo também ser expressada a forma αβ do TCR.
Há, frequentemente, uma anemia hemolítica Coombs negativa, como resultado do consumo periférico. A contagem leucocitária costuma ser normal mas podem, por vezes, aparecer células de linfoma em circulação.
A medula óssea apresenta-se hipercelular, com hiperplasia eritróide e megacariocítica, e frequentemente infiltrada por linfócitos de tamanho médio, em grupos, com cromatina moderadamente dispersa e citoplasma moderadamente basófilo. Pode observar-se hemofagocitose moderada, e os linfócitos do linfoma podem, eles próprios, mostrar eritrofagocitose.
As células expressam, na maioria dos casos, CD2 e CD3 e, frequentemente, CD7 mas são negativas para CD4, CD5 e CD8, podendo ser frequentemente negativas para o CD7. As células expressam na maioria dos casos TCR γδ mas não TCR αβ, sendo o contrário numa minoria dos casos.
Na histologia verifica-se haver hipercelularidade com hiperplasia eritróide e megacariocítica, havendo na maioria dos casos infiltração medular, que pode ser intersticial, intrasinusoidal ou ambas, sendo as células neoplásicas pleomórficas, de tamanho médio ou grande, com núcleos irregulares, com cromatina em grumos nas células menores e dispersa nas células maiores, com nucléolos visíveis.
Linfoma de Hodgkin
a) Forma clássica
Linfoma de Hodgin abrange um grupo de linfomas, geralmente de origem nodal. O linfoma de Hodgkin divide-se em linfoma de Hodgkin clássico, que abrange cerca de 95% dos casos, e linfoma de Hodgkin com predomínio de linfócitos nodulares, que é responsável por cerca de 5% dos casos. Estas entidades diferem entre si na etiologia, epidemiologia, dados histopatológicos, imunofenotipagem, dados de genética molecular e curso da doença.
Embora no linfoma de Hodgkin clássico as células sejam predominantemente células B, há muitas vezes falha de expressão dos marcadores de imunofenotipagem B, o que não se verifica com o linfoma de Hodgkin com predomínio de linfócitos nodulares que são células B claramente.
A incidência de linfoma de Hodgkin nos países desenvolvidos é de 2-3/100000/ano com um pico nos adultos jovens e um segundo pico na idade avançada. Há uma relação entre o linfoma de Hodgkin e o vírus de Epstein-Barr. A apresentação mais comum da doença é o envolvimento dos gânglios cervicais, havendo geralmente hepatoesplenomegalia nas fases avançadas. Acompanham aqueles sinais físicos a febre, sudação e emagrecimento.
As células neoplásicas incluem células polipóides designadas células de Reed-Sternberg, que são células gigantes que podem ser binucleadas ou multinucleadas ou com núcleos lobulados, apresentando grandes nucléolos, semelhando inclusões, e abundante citoplasma. Também presentes estão as células mononucleares de Hodgkin que são células grandes, semelhantes às de Reed-Sternberg, mas apenas com um núcleo grande e redondo. O mielograma no linfoma de Hodgkin é, frequentemente, apenas usado como processo de estadiamento da doença, mais que para o diagnóstico.
Célula de Reed-Sternberg
O sangue periférico não revela alterações específicas de linfoma de Hodgkin, podendo haver anemia, formação de rouleaux e aumento da VS. Pode aparecer, no sangue periférico, neutrofilia, eosinofilia ou trombocitose e, ocasionalmente, linfocitose ou, mais frequentemente, linfopenia.. Quando há infiltração medular, pode observar-se, com frequência, anemia, leucopenia e mesmo pancitopenia.
No mielograma, usualmente, apenas se observam alterações reactivas. A medula frequentemente é hipercelular com hiperplasia granulocítica ( neutrófilos e eosinófilos ). Macrófagos e plasmócitos estão frequentemente aumentados. A eritropoiese costuma estar diminuída, com sinais de anemia a doença crónica. Megacariócitos estão em número normal ou aumentado.
Uma célula de Reed-Sternberg ( esquerda ) e uma célula mononuclear de Hodgkin ( direita )
O infiltrado medular está presente em 5-15% dos doentes, sendo mais frequente nos homens, nos idosos, nos doentes com HIV positivo, nos que apresentam tipos histológicos mais agressivos e nos casos de doença mais avançada. A infiltração é rara ( 3-5 % ) no tipo nodular, mais comum ( cerca de 10 % ) na doença de celularidade mista, e frequente ( 50-60% ) nos casos de depleção linfocitária.
O padrão de infiltração é geralmente focal, mas pode por vezes ser difuso. As lesões focais são dispersas mas podem ser paratrabeculares. Infiltração focal é mais frequente no subtipo esclerose nodular, enquanto que o subtipo de deplecção linfocitária é característico da infiltração difusa. Lesões focais tendem a ser hipercelulares, onde se observam pequenos linfócitos, eosinófilos, plasmócitos, macrófagos e células de Reed-Sternberg. A infiltração celular não mostra atipia celular.
Imunohistoquimicamente, as células de Reed-Sternberg e sua variante mononuclear, são positivas para CD30, e na maioria dos casos positivas para o CD15 mas não para o CD45. Estas células podem expressar CD20 e, em poucos casos, CD79a. A expressão de CD20 associa-se a pior prognóstico. As células neoplásicas são quase sempre CD3 negativas.
Os linfócitos reactivos são células T que expressam CD3 e CD45RO e, por vezes, CD57.
b) Linfoma de Hodgkin com predomínio de linfócitos nodulares
Este sub-tipo de linfoma de Hodgkin, responsável por cerca de 5% dos casos de linfoma de Hodgkin, é uma rara neoplasia de células B, defenida por características células neoplásicas grandes, num background inflamatório. As células neoplásicas apresentam um escasso citoplasma e um núcleo multilobulado, com pequenos nucléolos, designadas células LP. Considera-se que este tipo de linfoma tem origem nas células B do centro germinativo.
A apresentação é geralmente com linfadenopatia localizada. Mais frequentemente aparece em homens, entre os 30 e 50 anos de idade. Tem um bom prognóstico mas podem haver recaídas.
O sangue periférico não apresenta alterações específicas, e o mielograma é usualmente normal. Imunofenotipagem por citometria de fluxo não é indicada dado haver geralmente ausência de células neoplásicas no sangue periférico e apenas raramente aparecem na medula óssea.
Infiltração medular é rara e, quando presente, o infiltrado semelha o do linfoma de células T/células B grandes rico em histiócitos. A infiltração medular representa pior prognóstico.
As células LP neoplásicas são CD15 e CD30 negativas, CD45, CD20 e CD79a positivas e imunoglobulinas podem expressar-se. A proteína BCL2 pode não se expressar enquanto que a proteína BCL6 está fortemente expressada.